
Claudia Andujar, Yanomami na frente de trabalho da construção da rodovia Perimetral Norte, RR, da série Consequências do contato, 1975.
2023. Editorial SP-Arte
A história do Brasil e a construção de suas tradições culturais mantêm estreito diálogo com suas noções ecológicas – desde as milenares práticas dos povos originários antes da invasão europeia até as relações contemporâneas com a natureza, seja no caminho hegemônico do extrativismo, seja em uma tentativa de reparação através da implementação de práticas sustentáveis e conscientizadoras. A ecologia, portanto, é uma leitura das configurações ambientais transpassada por ideais sociopolíticos, religiosos, culturais e econômicos das mais diversas matrizes.
O mais atento, então, seria remeter a ecologias, no plural, em sua multiplicidade de cosmovisões e epistemologias que fazem com que indivíduos e grupos enxerguem a natureza a partir de perspectivas bastante diferentes. Esse texto busca ilustrar a profusão de leituras ecológicas na atual produção artística brasileira, reiterando reverberações de estigmas coloniais ainda presentes na contemporaneidade.
A partir das relações da história com os nomes dados a seres naturais, do colonialismo histórico ao datacolonialismo, Giselle Beiguelman (VERVE) propõe uma revisão de nomes e formas de pensar as plantas no Brasil. Na série Botannica Tirannica (2022-2023), a artista questiona como se acostumou, a partir de um discurso cientificista opressor, chamar diversas plantas por nomes ofensivos a grupos minoritários, como judeu-errante, ciganinha, coração-de-índia, nigger-toe (castanha-do-Pará) e maria-sem-vergonha. A partir de robustos bancos de dados com fotos dessas plantas em sistemas de inteligência artificial, Beiguelman produz imagens e vídeos que propõem cruzamentos entre essas espécies a fim de reiterar a artificialidade dos preconceitos naturalizados e enraizados tanto na história quanto nos dias atuais, espelhando intolerâncias culturais sobre a natureza.
![]()
Giselle Beiguelman, Prompt: Uma gravura naturalista de Margaret Mee de uma floresta atlântica com Mimosas e gigantescos cactos ‘nigger head’ (Echinocactus polycephalus), depois de Martius, (imagem criada com inteligência artificial,) da série Botannica Tirannica, 2023.
![]()
Giselle Beiguelman, Uma floresta de cogumelos psicotrópicos (Psilocybin mushrooms), cânhamo (Apocynum cannabinum) e flores de Beladona. Ilustração de Basilius Besler, séc. 17, depois de Benedetto Rinio, séc. 15, (imagem criada com inteligência artificial,) da série Botannica Tirannica, 2023.
A artista ressalta que se privilegiam espécies que alimentam o extrativismo e o pensamento agricultor, enquanto demonizam-se plantas cujo controle é mais difícil e que não tem uma finalidade comercial, consideradas como ervas daninhas. Beiguelman reitera que os nomes preconceituosos geralmente são utilizados para identificar essas plantas que devem ser combatidas, e defende que “toda erva daninha é um ser rebelde”. Em novos trabalhos da mesma série, agora manipulando outras ferramentas de machine learning, Beiguelman produz imagens utilizando plataformas de inteligência artificial ao cruzar referências botânicas e ciborgues com trabalhos de naturalistas mulheres dos séculos 17 ao 20, invisibilizadas da história natural e da arte, expondo uma misoginia na própria produção científica.
A botânica e a zoologia, portanto, se apresentam como uma tecnologias dominadoras do império colonialista, já que só pode ser controlado o que tem nome e categorias, a partir de um modo de pensar eurocêntrico e cientificista. Criaturas sem identificação, portanto, são vistas próximas a uma bestialidade mágica e incontrolável, longe das referências europeias quanto à fauna, como nas pinturas de Bruno Novelli (Carmo Johnson Projects). Essa espécie de imaginária mitológica quanto à natureza brasileira é amplamente expressa nas gravuras de naturalistas europeus que vinham em expedições ao Brasil durante os séculos 18 e 19. Criticando essa fetichização caricata, que corrobora para um exotismo aniquilador dos povos originários, Denilson Baniwa (A Gentil Carioca) interfere nessas gravuras em um redesenho da história do período colonial, além de acentuar as limitações intelectuais dos invasores para lidar com diferenças quanto à cultura e à natureza, temendo sempre o inominável e o desconhecido.
![]()
Bruno Novelli, Tocaia Coral, 2022.
![]()
Denilson Baniwa, Guerrillas, da série Encantados, 2022.
Essas mesmas forças de invasão tentaram – e ainda tentam, em estruturas que planejadamente se retroalimentam – obliterar as funções ritualísticas, religiosas e medicinais que os povos tradicionais brasileiros construíram a partir do diálogo com a natureza. A obra de Aislan Pankararu (Galatea) reaviva elementos naturais e práticas culturais cujos nomes originalmente dados pelas comunidades indígenas foram alvos de apagamento. Operando imagens e narrativas pertencentes à sua ancestralidade e intrínsecas à noção de ecologia, o artista reafirma sua identidade como indígena do semiárido brasileiro. Além de expandir o debate sobre pintura contemporânea nos aspectos narrativos e identitários, o faz no âmbito matérico, acrescentando pigmentos naturais – como os de jenipapo e urucum – a materiais de pintura industrialmente produzidos, como tinta acrílica.
![]()
Aislan Pankararu, Escudo de proteção, 2022.
O garimpo ilegal, a exploração mineral hiperbólica, o desmatamento desregrado e a negligência perante as demarcações de terras indígenas refletem como todas essas problemáticas, geradas a partir da invasão europeia, se perpetuam na contemporaneidade. As noções de ecologia, portanto, são estruturadas por agentes sociopolíticos, econômicos e históricos, em um ciclo amarrado de forma tal a anular forças resistentes em um mesmo problema crítico. A completa transformação da paisagem pela atividade mineradora, como pinta Luiz Zerbini (Fortes D’Aloia & Gabriel), e a implementação de gigantescos projetos extrativistas em áreas florestais com incentivos governamentais reatualizam um projeto moderno de país que reacende as munições coloniais disparadas aos povos originários, como denuncia o trabalho de Claudia Andujar (Vermelho).
![]()
Luiz Zerbini, Rio das mortes, 2021.
![]()
Claudia Andujar, Yanomami na frente de trabalho da construção da rodovia Perimetral Norte, RR, da série Consequências do contato, 1975.
Tragédias ambientais causadas por esse procedimento perverso permanecem impunes, abafadas com estratégias políticas e afogadas pelo turbilhão midiático. Mabe Bethônico (Galeria Marília Razuk), em sua obra Falando de lama (2019), exibe as histórias enxurradas pelos desastres ecológicos e a devastação da vida de pessoas cujas narrativas são liquidadas pelo racismo ambiental.
![]()
![]()
Mabe Bethônico, Falando de lama, 2019.
A insustentabilidade dos sistemas dominantes no trato com a terra é endereçada por Matheus Rocha Pitta (Athena) em Um campo da fome (2019-2022). A grande instalação permanente, composta por uma horta de concreto e barro cercada – com 30 canteiros retangulares e cerca de 9000 peças cerâmicas em formas de frutas, raízes e legumes – é situada na Usina de Arte, em Água Preta (PE). O artista propõe o trabalho a partir de uma tradição da Grécia Antiga, em que havia a delimitação de um pedaço de terra próximo à acrópole, destinada a aprisionar a divindade que remetia à fome. Caso alguém entrasse nesse campo cercado, a fome seria liberta e se espalharia pela cidade. Em paralelo, Rocha Pitta destaca Estética da fome, manifesto escrito pelo cineasta Glauber Rocha, que atesta que “a fome é o nervo da cultura latino-americana”.
![]()
![]()
![]()
Matheus Rocha Pitta, Um campo de fome, 2019-2022.
O fato do Brasil ser um dos maiores exportadores de alimentos do globo, enquanto parte da população passa fome é no mínimo paradoxal. A volumosa presença das caixas de frutas no trabalho de Antonio Tarsis (Fortes D’Aloia & Gabriel) reitera tanto a gigantesca produção agricultora no país – distribuídas desigualmente de modo a levar o retorno do Brasil ao Mapa da Fome da ONU no ano passado – quanto a uma crítica a uma imagem brasileira vendida ao exterior como um eldorado tropical, de tom fetichizante – como também o faz Paulo Nazareth (Mendes Wood DM). Os dois artistas questionam, portanto, de que forma podem se relacionar com a paisagem do próprio país em um senso de pertencimento, e de como são vistos em um contexto global por fantasias alegóricas que camuflam realidades vividas no cotidiano brasileiro e reiteram a imagem de que o Brasil é terra com passado colonial, produtora de alimentos para abastecimento externo.
![]()
Antonio Tarsis, Leaf, 2021.
![]()
Paulo Nazareth, Sem título, da série Notícias de América, 2013.
As estratégias colonialistas quanto ao uso do solo privilegiam uma agricultura monocultora – da cana-de-açúcar colonial à soja contemporânea –, extrativista e voltada à exportação, que forçam determinados grupos minoritários à produção de certos tipos de insumos. Dalton Paula (Sé), em sua sequência de projetos que investigam o Atlântico Negro, analisa as raízes e os espinhos da produção do tabaco, do ouro e do algodão na América, sobretudo o trabalho de pessoas afrodiaspóricas escravizadas. As mazelas da produção de monocultura em terras invadidas é, portanto, um reflexo ecológico de uma imposição social que reitera o racismo nos meios de produção.
![]()
![]()
Dalton Paula, Rota do algodão, 2022.
Em resposta a esses dilemas ambientais, uma série de artistas propõem possibilidades de novas ecologias. Diambe da Silva explora possibilidades fabulativas de novos seres, elevando aspectos estéticos e ornamentais da natureza. Trata da materialidade ao lidar com o bronze e com formas naturais reconhecíveis agora em novos arranjos, mimetizando outros seres ou criando novos integrantes de seu ambiente fabulado. Com esse processo criativo, são apresentadas criaturas que habitam uma natureza poderosa e autônoma, cujo poder sobrepuje o do ser humano e escape de uma ilusória situação de dominação.
![]()
Diambe da Silva, À nadadora do sonho esquecido, 2022.
![]()
Diambe da Silva, Tehjaht, 2022.
Paralelamente, Gabriel Massan (HOA) cria ecossistemas em que rios obedecem a fluxos de vento diferentes das árvores, onde as forças de gravidade aplicadas aos corpos se diferem individualmente, como se cada entidade pudesse exercer sua singularidade em plenitude. Os trabalhos do artista incitam questionar se essa nova ecologia, habitada por novos seres e regida por forças rizomáticas, pediria um novo sistema ético e político. Suas obras instigam a refletir se, nesses mundos imaginados, existem ainda corpos periféricos ou desigualdade entre os seres.
![]()
![]()
Gabriel Massan, Don’t Say Goodbye to Earth, 2022.
As discussões sobre ecologias em lugares cujas culturas foram maculadas pelo colonialismo se expandem com o avanço dos estudos decoloniais, propondo críticas, revisões, fabulações e possíveis soluções. Na América Latina, um sólido corpo de artistas contemporâneos direciona suas pesquisas nessa direção, em resultados e processos plurais, como exemplificados no livro Eco-lógicas latinas (Act. Editora). Entrelaçando arte, ecologia e história – compreendendo essa última como ciência –, temas e imagens correntes nos debates sobre meio ambiente se interconectam com realidades sociopolíticas, culturais, econômicas e artísticas, partilhando estruturas múltiplas e heterogêneas.
![]()
![]()
Fernando Ticoulat, João Paulo Siqueira Lopes (org.), Eco-lógicas latinas, 2022.
Texto originalmente publicado no Editorial da SP-Arte 2023, em 9 de março de 2023
O mais atento, então, seria remeter a ecologias, no plural, em sua multiplicidade de cosmovisões e epistemologias que fazem com que indivíduos e grupos enxerguem a natureza a partir de perspectivas bastante diferentes. Esse texto busca ilustrar a profusão de leituras ecológicas na atual produção artística brasileira, reiterando reverberações de estigmas coloniais ainda presentes na contemporaneidade.
A partir das relações da história com os nomes dados a seres naturais, do colonialismo histórico ao datacolonialismo, Giselle Beiguelman (VERVE) propõe uma revisão de nomes e formas de pensar as plantas no Brasil. Na série Botannica Tirannica (2022-2023), a artista questiona como se acostumou, a partir de um discurso cientificista opressor, chamar diversas plantas por nomes ofensivos a grupos minoritários, como judeu-errante, ciganinha, coração-de-índia, nigger-toe (castanha-do-Pará) e maria-sem-vergonha. A partir de robustos bancos de dados com fotos dessas plantas em sistemas de inteligência artificial, Beiguelman produz imagens e vídeos que propõem cruzamentos entre essas espécies a fim de reiterar a artificialidade dos preconceitos naturalizados e enraizados tanto na história quanto nos dias atuais, espelhando intolerâncias culturais sobre a natureza.

Giselle Beiguelman, Prompt: Uma gravura naturalista de Margaret Mee de uma floresta atlântica com Mimosas e gigantescos cactos ‘nigger head’ (Echinocactus polycephalus), depois de Martius, (imagem criada com inteligência artificial,) da série Botannica Tirannica, 2023.

Giselle Beiguelman, Uma floresta de cogumelos psicotrópicos (Psilocybin mushrooms), cânhamo (Apocynum cannabinum) e flores de Beladona. Ilustração de Basilius Besler, séc. 17, depois de Benedetto Rinio, séc. 15, (imagem criada com inteligência artificial,) da série Botannica Tirannica, 2023.
A artista ressalta que se privilegiam espécies que alimentam o extrativismo e o pensamento agricultor, enquanto demonizam-se plantas cujo controle é mais difícil e que não tem uma finalidade comercial, consideradas como ervas daninhas. Beiguelman reitera que os nomes preconceituosos geralmente são utilizados para identificar essas plantas que devem ser combatidas, e defende que “toda erva daninha é um ser rebelde”. Em novos trabalhos da mesma série, agora manipulando outras ferramentas de machine learning, Beiguelman produz imagens utilizando plataformas de inteligência artificial ao cruzar referências botânicas e ciborgues com trabalhos de naturalistas mulheres dos séculos 17 ao 20, invisibilizadas da história natural e da arte, expondo uma misoginia na própria produção científica.
A botânica e a zoologia, portanto, se apresentam como uma tecnologias dominadoras do império colonialista, já que só pode ser controlado o que tem nome e categorias, a partir de um modo de pensar eurocêntrico e cientificista. Criaturas sem identificação, portanto, são vistas próximas a uma bestialidade mágica e incontrolável, longe das referências europeias quanto à fauna, como nas pinturas de Bruno Novelli (Carmo Johnson Projects). Essa espécie de imaginária mitológica quanto à natureza brasileira é amplamente expressa nas gravuras de naturalistas europeus que vinham em expedições ao Brasil durante os séculos 18 e 19. Criticando essa fetichização caricata, que corrobora para um exotismo aniquilador dos povos originários, Denilson Baniwa (A Gentil Carioca) interfere nessas gravuras em um redesenho da história do período colonial, além de acentuar as limitações intelectuais dos invasores para lidar com diferenças quanto à cultura e à natureza, temendo sempre o inominável e o desconhecido.

Bruno Novelli, Tocaia Coral, 2022.

Denilson Baniwa, Guerrillas, da série Encantados, 2022.
Essas mesmas forças de invasão tentaram – e ainda tentam, em estruturas que planejadamente se retroalimentam – obliterar as funções ritualísticas, religiosas e medicinais que os povos tradicionais brasileiros construíram a partir do diálogo com a natureza. A obra de Aislan Pankararu (Galatea) reaviva elementos naturais e práticas culturais cujos nomes originalmente dados pelas comunidades indígenas foram alvos de apagamento. Operando imagens e narrativas pertencentes à sua ancestralidade e intrínsecas à noção de ecologia, o artista reafirma sua identidade como indígena do semiárido brasileiro. Além de expandir o debate sobre pintura contemporânea nos aspectos narrativos e identitários, o faz no âmbito matérico, acrescentando pigmentos naturais – como os de jenipapo e urucum – a materiais de pintura industrialmente produzidos, como tinta acrílica.

Aislan Pankararu, Escudo de proteção, 2022.
O garimpo ilegal, a exploração mineral hiperbólica, o desmatamento desregrado e a negligência perante as demarcações de terras indígenas refletem como todas essas problemáticas, geradas a partir da invasão europeia, se perpetuam na contemporaneidade. As noções de ecologia, portanto, são estruturadas por agentes sociopolíticos, econômicos e históricos, em um ciclo amarrado de forma tal a anular forças resistentes em um mesmo problema crítico. A completa transformação da paisagem pela atividade mineradora, como pinta Luiz Zerbini (Fortes D’Aloia & Gabriel), e a implementação de gigantescos projetos extrativistas em áreas florestais com incentivos governamentais reatualizam um projeto moderno de país que reacende as munições coloniais disparadas aos povos originários, como denuncia o trabalho de Claudia Andujar (Vermelho).

Luiz Zerbini, Rio das mortes, 2021.

Claudia Andujar, Yanomami na frente de trabalho da construção da rodovia Perimetral Norte, RR, da série Consequências do contato, 1975.
Tragédias ambientais causadas por esse procedimento perverso permanecem impunes, abafadas com estratégias políticas e afogadas pelo turbilhão midiático. Mabe Bethônico (Galeria Marília Razuk), em sua obra Falando de lama (2019), exibe as histórias enxurradas pelos desastres ecológicos e a devastação da vida de pessoas cujas narrativas são liquidadas pelo racismo ambiental.


Mabe Bethônico, Falando de lama, 2019.
A insustentabilidade dos sistemas dominantes no trato com a terra é endereçada por Matheus Rocha Pitta (Athena) em Um campo da fome (2019-2022). A grande instalação permanente, composta por uma horta de concreto e barro cercada – com 30 canteiros retangulares e cerca de 9000 peças cerâmicas em formas de frutas, raízes e legumes – é situada na Usina de Arte, em Água Preta (PE). O artista propõe o trabalho a partir de uma tradição da Grécia Antiga, em que havia a delimitação de um pedaço de terra próximo à acrópole, destinada a aprisionar a divindade que remetia à fome. Caso alguém entrasse nesse campo cercado, a fome seria liberta e se espalharia pela cidade. Em paralelo, Rocha Pitta destaca Estética da fome, manifesto escrito pelo cineasta Glauber Rocha, que atesta que “a fome é o nervo da cultura latino-americana”.



Matheus Rocha Pitta, Um campo de fome, 2019-2022.
O fato do Brasil ser um dos maiores exportadores de alimentos do globo, enquanto parte da população passa fome é no mínimo paradoxal. A volumosa presença das caixas de frutas no trabalho de Antonio Tarsis (Fortes D’Aloia & Gabriel) reitera tanto a gigantesca produção agricultora no país – distribuídas desigualmente de modo a levar o retorno do Brasil ao Mapa da Fome da ONU no ano passado – quanto a uma crítica a uma imagem brasileira vendida ao exterior como um eldorado tropical, de tom fetichizante – como também o faz Paulo Nazareth (Mendes Wood DM). Os dois artistas questionam, portanto, de que forma podem se relacionar com a paisagem do próprio país em um senso de pertencimento, e de como são vistos em um contexto global por fantasias alegóricas que camuflam realidades vividas no cotidiano brasileiro e reiteram a imagem de que o Brasil é terra com passado colonial, produtora de alimentos para abastecimento externo.

Antonio Tarsis, Leaf, 2021.

Paulo Nazareth, Sem título, da série Notícias de América, 2013.
As estratégias colonialistas quanto ao uso do solo privilegiam uma agricultura monocultora – da cana-de-açúcar colonial à soja contemporânea –, extrativista e voltada à exportação, que forçam determinados grupos minoritários à produção de certos tipos de insumos. Dalton Paula (Sé), em sua sequência de projetos que investigam o Atlântico Negro, analisa as raízes e os espinhos da produção do tabaco, do ouro e do algodão na América, sobretudo o trabalho de pessoas afrodiaspóricas escravizadas. As mazelas da produção de monocultura em terras invadidas é, portanto, um reflexo ecológico de uma imposição social que reitera o racismo nos meios de produção.


Dalton Paula, Rota do algodão, 2022.
Em resposta a esses dilemas ambientais, uma série de artistas propõem possibilidades de novas ecologias. Diambe da Silva explora possibilidades fabulativas de novos seres, elevando aspectos estéticos e ornamentais da natureza. Trata da materialidade ao lidar com o bronze e com formas naturais reconhecíveis agora em novos arranjos, mimetizando outros seres ou criando novos integrantes de seu ambiente fabulado. Com esse processo criativo, são apresentadas criaturas que habitam uma natureza poderosa e autônoma, cujo poder sobrepuje o do ser humano e escape de uma ilusória situação de dominação.

Diambe da Silva, À nadadora do sonho esquecido, 2022.

Diambe da Silva, Tehjaht, 2022.
Paralelamente, Gabriel Massan (HOA) cria ecossistemas em que rios obedecem a fluxos de vento diferentes das árvores, onde as forças de gravidade aplicadas aos corpos se diferem individualmente, como se cada entidade pudesse exercer sua singularidade em plenitude. Os trabalhos do artista incitam questionar se essa nova ecologia, habitada por novos seres e regida por forças rizomáticas, pediria um novo sistema ético e político. Suas obras instigam a refletir se, nesses mundos imaginados, existem ainda corpos periféricos ou desigualdade entre os seres.


Gabriel Massan, Don’t Say Goodbye to Earth, 2022.
As discussões sobre ecologias em lugares cujas culturas foram maculadas pelo colonialismo se expandem com o avanço dos estudos decoloniais, propondo críticas, revisões, fabulações e possíveis soluções. Na América Latina, um sólido corpo de artistas contemporâneos direciona suas pesquisas nessa direção, em resultados e processos plurais, como exemplificados no livro Eco-lógicas latinas (Act. Editora). Entrelaçando arte, ecologia e história – compreendendo essa última como ciência –, temas e imagens correntes nos debates sobre meio ambiente se interconectam com realidades sociopolíticas, culturais, econômicas e artísticas, partilhando estruturas múltiplas e heterogêneas.

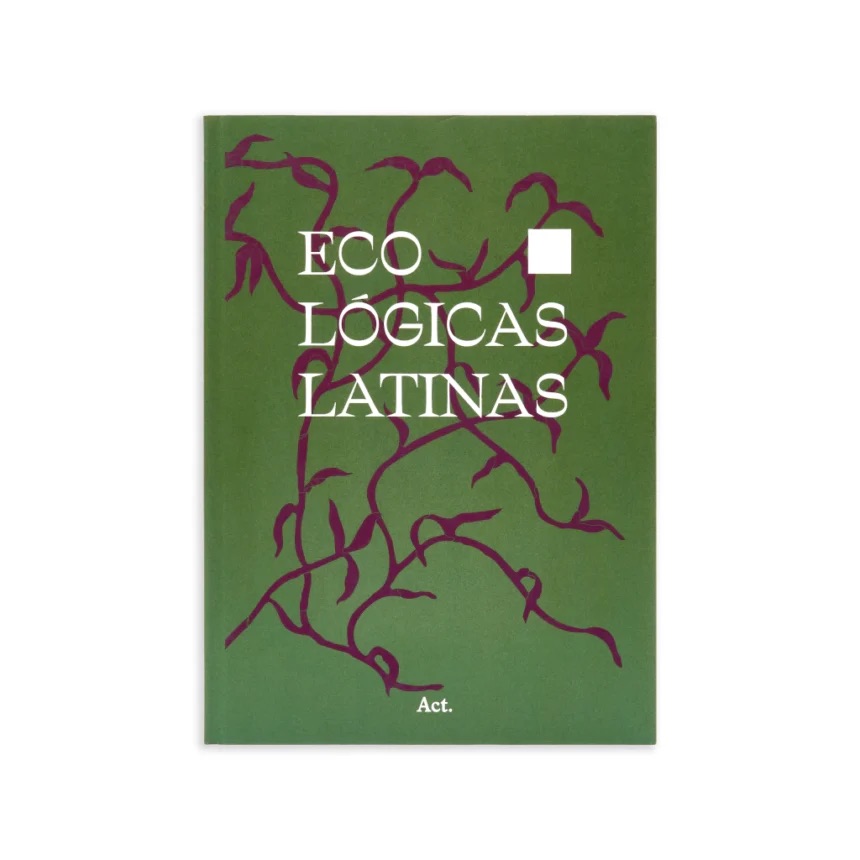
Fernando Ticoulat, João Paulo Siqueira Lopes (org.), Eco-lógicas latinas, 2022.
Texto originalmente publicado no Editorial da SP-Arte 2023, em 9 de março de 2023
Todas as imagens são cortesias dos artistas, de suas galerias ou dos institutos que os representam.